
Ciência na era do Negacionismo
A Produção de Conhecimento entre o Descrédito e o Sucateamento
Jhennifer Laruska e Juliana Santana
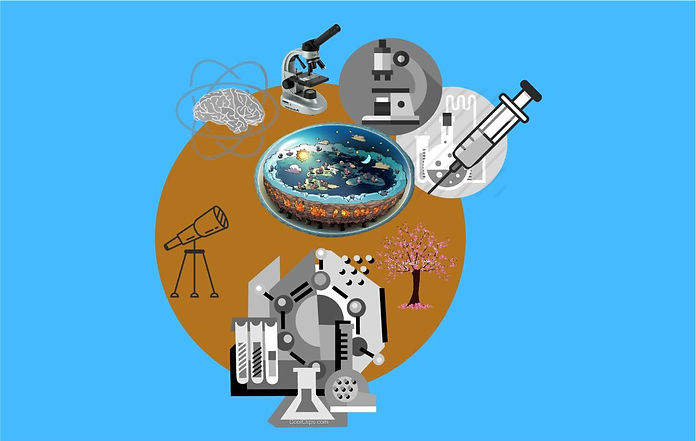
Apesar do prestígio que a ciência adquiriu com o passar dos séculos, movimentos negacionistas ameaçam os avanços científicos. (Arte: Franciele Brito e Ygor Lima)
A ciência conquistou um status inquestionável através de avanços que possibilitaram melhores condições de vida e conhecimento amplo acerca de questões sociais e do universo. A notícia de uma pandemia alarmou a sociedade ao redor do globo, mas não foi uma verdadeira surpresa para a comunidade de cientistas que estudam sobre o tema e que já alertavam para o surgimento de crises como a do novo coronavírus 一 a única dúvida que restava era o ‘quando’.
O lugar de prestígio da ciência, consequência de seus valores e métodos construídos, partilhados e protegidos pela comunidade científica, é acentuado a cada nova descoberta, mas não garante que o seu papel esteja a salvo de discursos e grupos conspiratórios e negacionistas. Considerados uma grande ameaça à saúde e também à convivência em sociedade, esses movimentos contestam os avanços científicos e fornecem ideologias em contraponto aos conhecimentos estabelecidos e comprovados pela ciência. O surgimento de movimentos como o antivacina, terraplanismo, negacionismo climático ou histórico são exemplos do descrédito dado ao papel científico e afetam as mais diversas esferas sociais, como é o caso da política e da imprensa.
O advento de movimentos negacionistas
A emergência de discursos contrários à ciência coincide com momentos da história humana de grande produção de conhecimento. Alguns vestígios podem ser encontrados já no século XVI, quando a razão e as experiências científicas ganhavam espaço em um ambiente permeado pelo senso comum, com domínio da Igreja Católica no aprisionamento das ideias e dos saberes. De acordo com Fabio Maza, doutor em História e professor na Universidade Federal de Sergipe (UFS), “formas antagônicas e visões de mundo” que contrariavam os feitos científicos já podiam ser observadas com o advento da Ciência Moderna.
“Mas a ciência não se faz com senso comum e sim com a razão, dados empíricos e método.” - Fabio Maza, historiador.
O livro “Revolução das Orbes Celestes”, escrito pelo astrônomo polonês Nicolau Copérnico, pode ser considerado a primeira obra a indicar o sol como centro das órbitas dos planetas, que ficou conhecido como Sistema Heliocêntrico. Este modelo refutou assim, a ideia aristotélica-ptolomaica de que a terra ocupava o centro do universo. Segundo Maza, essa descoberta não se configurava simplesmente como “um modo diferente de descrever o movimento dos planetas, mas de algo que ia de encontro aos dogmas da Igreja e do senso comum das pessoas. [...] Mas a ciência não se faz com senso comum e sim com a razão, dados empíricos e método.”
Ao movimento que nega os fatos e a realidade composta por eles, dá-se o nome de negacionismo. Conforme Fernanda Petrarca, professora do Departamento de Ciências Sociais da UFS e coordenadora do Laboratório de Estudos do Poder e da Política (LEPP/UFS), “o negacionismo costuma ser uma expressão empregada para designar movimentos que negam o senso geralmente sustentado em fatos construídos em determinadas áreas”, como é o caso da Ciência e da História.
O termo negacionismo foi utilizado pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de caracterizar o grupo anti-semitista da extrema-direita que negava os acontecimentos e os crimes cometidos durante o período, a exemplo do Holocausto.
O poder do discurso político
Assim como outros eventos históricos, a pandemia da covid-19 evidenciou tentativas de enfraquecimento de instituições consolidadas tendo em vista ferir os pilares da credibilidade pela qual são reconhecidas. O doutor em Ciência Política e professor do Departamento de Ciências Sociais da UFS, Rodrigo Lins, entende que o contexto pandêmico “serviu como trampolim para os discursos negacionistas”. Para ele, as medidas de prevenção determinadas pelos cientistas contra a disseminação da doença, “se tornaram alvo principal dos negacionistas, que por interpretações equivocadas dos textos clássicos do liberalismo, afirmavam que essas restrições feriam suas liberdades individuais”.
Esse conceito também é rememorado pelo professor Fabio Maza ao evidenciar o uso de deturpações dos conceitos liberais por parte desses grupos negacionistas com teses que “partem de uma ‘desapropriação’ dos direitos individuais”. E acrescenta: “Ora, com isso nega-se o direito de outras pessoas de não serem contaminadas. O direito não é meu e sim de todos”.
Embora o negacionismo tenha adquirido um lugar de destaque no cenário político e social durante a crise sanitária atual, Rodrigo Lins lembra que não é preciso períodos anormais para que os movimentos negacionistas e discursos conspiratórios agravem “a polarização, causando rusgas importantes no tecido social”.
Nos últimos anos, o quadro político nacional e internacional testemunhou o crescimento de líderes conservadores e ultraconservadores em cargos de poder em grandes nações. O cenário de crises econômicas, casos de corrupção política, aumento das taxas de desemprego e de desigualdade elevaram a desconfiança da população. Essas insatisfações populares diante de governos, até então estabelecidos no poder, colocaram em evidência figuras pouco conhecidas que, com discursos apelativos e populistas, se apresentaram como a solução para os graves problemas enfrentados pela nação.
Segundo a cientista política Fernanda Petrarca, pesquisas apontam que existe uma forte associação entre os grupos conservadores de direita e de extrema direita com os movimentos negacionistas. Para exemplificar essa associação, a pesquisadora cita o revisionismo histórico como uma dessas movimentações que buscam negar acontecimentos reais. “Esses discursos funcionam como uma arma política, como instrumento de disputa política. Hoje, esse movimento se espalha nas redes sociais conservadoras, com o objetivo de legitimar um projeto político por meio de uma revisão que não tem compromisso nenhum com os fatos”, explica Petrarca.
Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil, são exemplos de líderes populistas, que ascenderam nesse cenário de descrédito das instituições políticas e de fragilidade social. Essas personalidades, de acordo com o cientista político Rodrigo Lins, apoiaram-se “nos chamados ‘deixados para trás’ (left behind), grupo de trabalhadores que por causa da crise internacional, da automação e da internacionalização da mão de obra se viu desempregado e desamparado, optando por eleger políticos que prometiam corrigir o país por inteiro”.
O contexto no qual estão inseridos esses acontecimentos propicia o surgimento e fortalecimento dos movimentos negacionistas e conspiratórios, endossados pelos discursos proferidos por esses governantes. Fernanda Petrarca entende que “na medida em que cresce no mundo líderes conservadores ou ultraconservadores com projeto político extremista, estes grupos negacionistas encontram espaço para sua expansão e, muitas vezes, encontram também as condições materiais de financiamento para seus projetos”. A pesquisadora cita movimentos antivacina como um exemplo de grupos respaldados por essas figuras políticas através de seus posicionamentos.
O movimento antivacina
Uma das associações mais frequentes ao pensar em movimentos questionadores acerca da vacinação no Brasil, é o caso da Revolta da Vacina, ocorrida em 1904, quando populares, contrários à obrigatoriedade da imunização contra a varíola, foram às ruas protestar, porque não acreditavam na eficácia da vacina. Mais de 100 anos depois e em uma conjuntura totalmente diferente, movimentos antivacina ganham novos adeptos e continuam a crescer a partir da desconfiança a respeito da sua eficácia e dos seus efeitos colaterais.
Quando momentos históricos como esses são observados, é muito comum a tentativa de comparar e igualar as situações vividas em cada período, abstraindo delas o diferencial de tempo e sociedade no qual estão inseridos. Porém, o historiador Fabio Maza sugere cautela: “Em história as coisas não se repetem. Cada momento histórico possui sua especificidade, mesmo que às vezes, aparentemente, alguns desses momentos pareçam iguais”.
No caso da Revolta da Vacina, houve uma movimentação popular contra a imposição da vacinação, uma decisão tomada pelos governantes que não agradou aos cidadãos. Nos dias atuais, os principais responsáveis por incitar esse tipo de movimento são os líderes políticos, que negam as medidas de isolamento e a eficácia e segurança das diferentes vacinas.
Embora seja possível encontrar durante o curso da história vários questionamentos acerca da vacinação, o principal argumento utilizado para justificar essa recusa surgiu apenas em 1998. O estudo do médico britânico Andrew Wakefield, publicado na revista científica Lancet, associava a tríplice viral 一 vacina que previne a caxumba, o sarampo e a rubéola 一 ao autismo em crianças. Tempos depois, o estudo mostrou-se falso, apesar de ainda possuir adesão por parte de grupos que buscam boicotar a vacinação.
Linha do tempo sobre as transformações da vacinação. (Arte: Vitor Braga, Ygor Lima e Franciele Brito)
O movimento cresceu tanto que, em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS), diante da ameaça dos discursos que negam a eficácia e a segurança das vacinas, declarou o movimento antivacinação como uma das dez ameaças à saúde global, visto que a hesitância ou a recusa à imunização ameaça o progresso feito ao longo das décadas para combater doenças e mortes. A OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) também alertaram para a estagnação da cobertura vacinal global, antes mesmo da covid-19, que prejudicou os programas de vacinação ao redor do mundo.
O professor do Departamento de Educação em Saúde da UFS e doutor em Patologia Humana, Diego Tanajura, aponta que no Brasil, o fluxo do movimento antivacina ainda é muito fraco, se comparado aos Estados Unidos e à Europa, mas que esses grupos vêm ganhando adesão nos últimos anos e com a pandemia da covid-19. O pesquisador conta que “até pouco tempo atrás [o movimento antivacina] era muito fraco, tanto no Brasil quanto no estado [de Sergipe]. Na região Nordeste, na realidade, o movimento ainda é um pouco fraco, então ele é mais forte na região Sul e Sudeste”. Tanajura acrescenta que o crescimento do movimento antivacina no país é impulsionado por negacionistas e, até mesmo, pelas falas do presidente ao demonstrar desconfiança sobre a eficácia das vacinas.
“A vacina acabou surgindo de forma rápida. Mas não é porque ela surgiu de forma rápida que ela não seja segura.” - Diego Tanajura, professor de Imunologia.
O Brasil é responsável por um dos melhores calendários vacinais do mundo, o Programa Nacional de Imunização (PNI) que, através do Sistema Único de Saúde (SUS), oferece imunizantes para 20 doenças. No entanto, de acordo com a Agência Brasil, os últimos cinco anos demonstraram um decréscimo na taxa de cobertura. O país, que havia conseguido erradicar o sarampo, perdeu em 2019 o certificado após a confirmação de novos surtos da doença no país.
De acordo com a OMS, a vacinação se caracteriza como a forma mais eficiente e eficaz de evitar uma variedade de doenças, sendo responsável pela prevenção de cerca de 2 a 3 milhões de mortes a cada ano, além de ser a alternativa com melhor custo-benefício para os governos.
Quando a pandemia da covid-19 foi decretada, cientistas de todo o mundo reuniram esforços para encontrar a cura da doença que, até a data de publicação desta reportagem, deixou mais de 230 mil vítimas em todo o território brasileiro e cerca de 2800 só no estado de Sergipe. Como a doença não pode ser prevenida com remédios previamente existentes, a vacinação configura-se como a única alternativa viável, até o presente momento, para conter o avanço da pandemia.
Segundo Diego Tanajura, os imunizantes, desenvolvidos em tempo recorde, são resultados de estudos desenvolvidos para as doenças causadas por outros tipos de coronavírus, como é o caso da SARS-CoV e da MERS-CoV. Atrelado a isso, o pesquisador também ressalta a importância do investimento financeiro e do aperfeiçoamento das tecnologias desses imunizantes: “Essas vacinas podem ser novas para a população, mas para nós pesquisadores, elas já têm mais de 30 anos que já vem sendo estudadas. A gente aprimorou muito essa técnica e, é por isso, que a vacina acabou surgindo de forma rápida. Mas não é porque ela surgiu de forma rápida que ela não seja segura”.
Ao passo em que os estudos sobre o tema continuam a se estender, teorias conspiratórias e demais informações inverídicas sobre a vacina ganham velocidade, confundem e põe em risco a vida de outros tantos milhões de pessoas, já vulneráveis em meio ao caos pandêmico.
Teorias da conspiração e negacionismo
Os grupos antivacina não são as únicas preocupações da comunidade científica e de boa parte da sociedade. Outras teorias negacionistas e conspiratórias podem ser adicionadas à lista de movimentos que rejeitam fatos incontestáveis e verificados empiricamente, a exemplo do revisionismo histórico e do terraplanismo. De acordo com a cientista política Fernanda Petrarca, "a base comum que sustenta esses grupos é a contraposição à ciência e o seu forte caráter antissistema”.
Segundo a pesquisadora, o revisionismo histórico é “sustentado com base na negação e, por vezes, até na manipulação dos dados e que não há um compromisso com os fatos históricos”. Esse é o caso dos grupos anti-semitas e neonazistas, que negam a existência do Holocausto, e da nova direita brasileira, que opõe-se ao fato de que existiu uma ditadura no Brasil entre 1964 e 1985. Petrarca acredita que o sentido político desses grupos é o de “desfazer o forte caráter negativo dos crimes nazistas e, no caso do Brasil, os crimes cometidos durante o regime militar por grupos da direita”.
A cientista política conta que o revisionismo histórico se fortaleceu no país a partir de acontecimentos recentes como o Impeachment de Dilma Rousseff, que “abriram espaço para um discurso extremista até então pouco comum” em terras brasileiras. “Aqueles grupos conservadores que ficaram por décadas envergonhados pelo processo de redemocratização, encontraram espaço para se manifestar”, completa.
Em pesquisa divulgada pelo Datafolha no ano de 2019, cerca de 7% dos brasileiros declararam acreditar que a terra é plana. Apesar de ser conhecido que a terra é redonda baseando-se em experimentos como o de Eratóstenes 一 grego que há mais de 200 anos a.C foi capaz de medir a circunferência da terra 一 ou através da expedição ao redor do mundo, comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães em 1519, o terraplanismo segue ganhando adesão através de grupos da internet que espalham a desinformação.
Em meio aos inúmeros avanços e contribuições da ciência para a vida em sociedade, o historiador Fabio Maza nota que ainda há grupos resistentes aos saberes e descobertas científicas, embora utilizem dos benefícios advindos de estudos e experiências resultantes da Ciência para compartilharem suas convicções infundadas. Segundo ele, aqueles que acreditam no terraplanismo se esquecem da “atração gravitacional da terra que permite aos satélites, que transmitem seus dados de celulares, de permanecer no espaço”.
Impactos das teorias conspiratórias e do negacionismo
Em março de 2020, em pleno início da pandemia da covid-19, Jair Bolsonaro (sem partido) declarou que o vírus se tratava apenas de uma “gripezinha”. Quase 11 meses depois, o país ocupa a segunda posição no ranking mundial em número de mortes, os estados entram em colapso sem insumos médicos essenciais e vivenciam o surgimento de novas variantes.
Ainda diante do caos, declarações como essas continuaram a acontecer. Em dezembro do mesmo ano, o presidente voltou a preocupar a comunidade científica e parte da sociedade com suas declarações. Com o avanço na produção dos imunizantes para a doença, ele colocou em dúvida a eficácia da vacina e ironizou sua importância para frear os avanços da pandemia, com a frase: “Se você virar um jacaré, o problema é seu”.
“Quantos dias passamos discutindo, ironizando a afirmação de que quem tomasse a vacina viraria jacaré? No passado viraríamos bovinos.” - Fabio Maza, historiador
O historiador Fabio Maza compara as afirmações de Bolsonaro com os boatos que rondavam a vacinação contra a varíola em 1904. Na época, quando a população tomou conhecimento de que o imunizante utilizava “pústulas de vacas doentes” na sua composição, eles tornaram-se resistentes ao seu uso, com medo de que ficassem com “feições bovinas”. “Quantos dias passamos discutindo, ironizando a afirmação de que quem tomasse a vacina viraria jacaré? No passado viraríamos bovinos”, observa.
Para além dos efeitos observados no contexto pandêmico e na saúde como um todo, a cientista social Fernanda Petrarca alerta para o aumento da “violência nas relações cotidianas” e para o impacto do ponto de vista social. Segundo a pesquisadora, isso “diz respeito à descrença que vai se produzindo com relação às instituições [...] que produzem conhecimentos e que são bastante negadas diante dessas teorias”.
O papel da mídia
Assim como a Ciência, a instituição jornalística também é desafiada pelo cenário negacionista. Responsável por fornecer informações verdadeiras e traduzir para a linguagem cotidiana o conhecimento científico, o jornalismo se vê ameaçado diante de uma abundância de conteúdo que busca 一 intencionalmente ou não 一 desinformar a sociedade. Carlos Franciscato, professor de Jornalismo da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas, afirma que “a desinformação é um processo estrutural na sociedade que se espalhou por diversas bases. É como se o jornalismo, como instituição, lutasse, ele sendo um exército só, contra uma diversidade de exércitos que compõem a desinformação”.
De acordo com o professor, a instituição jornalística “municia” a população com informações no intuito de orientá-la para enfrentar a “desordem informacional” e, consequentemente, evitar o “caos social”. A ausência de conteúdos que se pautam pelo compromisso com os fatos seriam agentes causadores dessa “desordem”, observadas no nosso cotidiano, por exemplo, no medo em se vacinar ou na negação da gravidade de um vírus letal.
Tanto a ciência quanto o próprio jornalismo enfrentam a desinformação e os discursos negacionistas que expunham as instituições ao descrédito. Durante o período pandêmico, grande parte das informações circulantes na sociedade 一 decorrentes de estudos científicos 一, vieram de produções jornalísticas. Em meio à desinformação existente, o jornalismo diminuiu a distância entre os conhecimentos científicos e a população ao interpretar e divulgar descobertas importantes sobre um vírus quase que inteiramente desconhecido.
Diego Tanajura conta que, devido às suas pesquisas acerca da covid-19, o contato com a imprensa tornou-se mais intenso, o que contribuiu para disseminar o conhecimento produzido por ele e outros cientistas. Para o pesquisador, a produção científica não pode ficar restrita ao ambiente acadêmico. “De nada adianta você ficar lá nas quatro paredes do seu laboratório produzindo ciência de qualidade, se essa ciência não está chegando à sociedade, se você não está explicando o que está sendo feito para a sociedade”, afirma.

Devido a pandemia, as pautas científicas cresceram nos meios de comunicação. Em Sergipe, para além dos veículos jornalísticos, novas estratégias surgem com o objetivo de combater a desinformação. (Arte: Franciele Brito e Ygor Lima)
Para além da divulgação em meios jornalísticos, é possível ressaltar um crescimento de pautas científicas nas mídias digitais durante a pandemia. Ana Carolina Westrup, professora do curso de Publicidade e Propaganda da UFS e mestra em Economia Política da Comunicação, acredita que é preciso “aprender com esse momento e tentar elevar a condição da ciência, não só no espaço de produção de conhecimento, mas de disseminação do conhecimento”.
Foi com esse intuito de ampliar o alcance dos seus estudos, que Diego Tanajura criou o Imuno_News, perfil no Instagram que reúne informações acerca da imunologia, sua área de atuação. O professor conta que a ideia da página surgiu ao perceber a escassez de conteúdos sobre o tema nas redes sociais e que, após quatro meses de lançamento da página, já estava recebendo avaliações positivas dos próprios alunos e demais pessoas de fora da universidade. Isso levou Tanajura a expandir a ideia, transformando-a “em um projeto de extensão, justamente para chamar os alunos para ajudar o projeto na escrita de textos, posts de divulgação científica... Para treinar esses alunos a escrever de forma leve, saber passar para a população o que eles estão fazendo de ciência, o que eles aprenderam nas disciplinas de imunologia”.
Caminhos para a ciência
A Ciência tem ocupado lugar central na história da humanidade. As invenções científicas, os estudos, experimentações e descobertas ampliaram as perspectivas de vida e conduziram a sociedade ao avanço. O historiador Fabio Maza considera difícil entender os porquês de tanta resistência quanto aos saberes e descobertas científicas, mas acredita que isso esteja relacionado às questões políticas, psicológicas, sociais e comunicacionais.
Apesar disso, Fabio aponta um cenário de confiança nas contribuições da ciência pela maioria da sociedade. “Todos nós quando adoecemos procuramos um médico; tomamos remédios que são resultados de pesquisas científicas; utilizamos carros, trens ou aviões para nos locomovermos que são frutos de estudos matemáticos, físicos, aerodinâmicos; enfim, de pesquisas complexas que se utilizam do conhecimento científico e tecnológico”, ressalta.

Mesmo com os desafios na produção de conhecimento científico, pesquisadores brasileiros fizeram história e contribuíram para o avanço da ciência no país. (Arte: Franciele Brito/ Ygor Lima Produtores)
No Brasil, grande parte da produção de conhecimento é oriunda de ambientes universitários. Em 2019, 95% das universidades públicas foram responsáveis pelos estudos científicos brasileiros. Porém, no mesmo ano, as mesmas instituições sofreram com cortes e ataques do Governo Federal, decorrentes de um cenário negacionista endossado pela gestão atual.
Para Diego Tanajura, o maior desafio da pesquisa científica é, justamente, a falta de recursos, seja no estado de Sergipe 一 onde o pesquisador desenvolve os seus estudos atualmente 一 ou no país como um todo. “Sem recurso é muito difícil fazer ciência. E o que a gente tem observado, até antes desse governo, eram cortes substanciais no investimento de ciência e tecnologia. Então, não tem para onde correr... Sem dinheiro é difícil concorrer com outros países que têm muito mais verbas”.
A desinformação e a disseminação de conteúdos falsos desafiam profundamente as estruturas públicas, principalmente as universidades. É o que recorda a professora Ana Carolina Westrup quanto ao cenário de 2019, semelhante ao momento atual. Para ela, é preciso investir em um projeto estratégico para publicizar estudos produzidos nas instituições universitárias com o objetivo de elevar “o papel da universidade para a sociedade, para a gente combater esse contexto, inclusive, desinformativo, para valorar a ciência enquanto um caminho real e objetivo para o desenvolvimento da sociedade”.
+ Ouça o nosso podcast:






